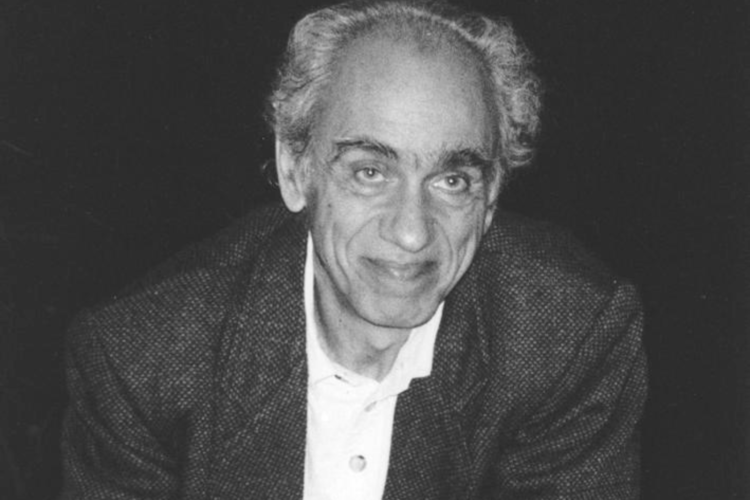Cândido Grzybowski
Sociólogo, presidente do Ibase
Estamos novamente diante de uma tragédia de grande impacto ecossocial: mais uma barragem de rejeitos de mineradora que se rompe, deixa mortes e “terra arrasada” no caminho da lama, descendo como avalanche. Mais uma vez, em Minas Gerais. Mais uma vez, trata-se da Vale, a mesma empresa envolvida na ruptura de outra barragem que soterrou um povoado em Mariana, com mortes, e contaminou todo o Rio Doce. Isto três anos e pouco atrás. A gente nem sabe direito quantas “bombas” de rejeitos de mineradoras existem pelo Brasil afora, ameaçando vidas humanas, a integridade dos territórios e todas as formas de vida.
Nossa solidariedade imediata às famílias das vítimas atingidas diretamente – funcionários da própria Vale e moradores dos povoados de Brumadinho – não deve ter limites. Precisamos, também, nos somar a todos que clamam por justiça e reparação, a mais rápida possível. A irresponsabilidade não pode, mais uma vez, ficar impune e esquecida. Mas nada, absolutamente nada, vai repor as vidas perdidas e devolver a integridade daquele território.
Será que tragédias assim podem ser toleradas como “efeitos colaterais” do tal desenvolvimento? Desenvolvimento econômico, assentado numa lógica de crescimento na busca desenfreada por lucros a todo custo e acumulação capitalista, está longe de se preocupar com a vida e a integridade da natureza. As empresas não pensam sua responsabilidade de uma perspectiva ética. Limitam-se fundamentalmente a gerar dividendos aos seus acionistas, com olho em sua cotação na bolsa de valores. E governos se esforçam para não dificultar a vida das empresas, mesmo com a sociedade cobrando mais e mais responsabilidade social e ecológica, com governança adequada e com total transparência. Para completar, estamos numa conjuntura política de um novo governo disposto a afrouxar controles sociais e ambientais em nome de um anacrônico absolutismo do livre mercado.
Penso que se faz necessário esclarecer alguns pressupostos que considero fundamentais para melhor situar meus argumentos. Viver é trocar com a natureza. Não há forma de vida sem tal troca, pois somos natureza nós mesmos. O que mudou e muito foi a nossa capacidade tecnológica na relação com a natureza para satisfazer as nossas necessidades e desejos. Com o desenvolvimento científico e tecnológico desvendamos segredos da dinâmica ecológica natural e aumentamos em muito a possibilidade de produzir bens. Mais, hoje temos capacidade de destruir e já ultrapassamos em muito alguns dos limites naturais que garantem a integridade de sistemas ecológicos essenciais à biosfera no planeta. Ao invés de nos pensarmos como parte da natureza e nós mesmos como parte essencial em sua evolução, como força ecossocial, temos uma concepção dominante do domínio e exploração, sem limites, levando à destruição. Pior, o modelo dominante da economia é gerar lucros e acumular, destruindo natureza e concentrando a riqueza gerada. Até quando?
Os exemplos de ruptura com as possibilidades de suporte e regeneração da natureza são muitos. Nossa civilização atual, por exemplo, é movida por energia fóssil. Extraímos carvão, petróleo e gás para mover nossas economias e nosso bem estar. Mas estamos queimando num curto período da história da humanidade o que a natureza levou milhões de anos para produzir. Pior, estamos queimando e emitindo gases que estão levando à mudança climática, tragédia anunciada para logo ali, mas que teimamos em não ver. E existem os vazamentos de petróleo, sempre grandes tragédias. Aliás, do petróleo sai o plástico, hoje uma grande ameaça para a integridade do ciclo da água, vital para qualquer forma de vida. Mas dá para conceber a vida que levamos sem petróleo? Hoje, já sabemos que tecnologicamente existem alternativas, mas o problema é mais de responsabilidade ecossocial das empresas e de poder na sociedade.
O extrativismo é uma atividade essencial, mas pode ser praticado com responsabilidade, tanto na extração em si como nos impactos ecossociais. Destruir territórios e sua população não pode ser tratado como uma fatalidade, pois não é. É atividade de riscos, que devem e podem ser evitados. De forma nenhuma é aceitável o extrativismo desenfreado, sem as devidas análises e medidas para garantir resiliência ecossocial no território impactado. As empresas não podem ser tão irresponsáveis, sem transparência, pois o extrativismo está entre as atividades mais lucrativas, mas de grande potencial destrutivo. Mesmo não acontecendo desastres, a jazida de minério um dia acaba. Sobra somente o buraco da mina, com os rejeitos, para o território e a cidadania local.
Como cidadania, temos uma gigante tarefa pela frente de repensar o lugar do extrativismo em nossa economia e o tipo de responsabilidade ecossocial a cobrar das empresas envolvidas e do próprio governo na sua regulação. Está em jogo a integridade dos territórios e de suas populações locais, mas sobretudo o próprio futuro coletivo. Afinal, a tal riqueza natural uma vez extraída empobrece o território e gera um passivo nosso em relação a futuras gerações, que não a terão e, talvez, dela fariam um uso mais sustentável. O debate sobre tais questões ainda é dominantemente deixado para os diretamente atingidos. Precisamos transformar isto em questão de cidadania. Precisamos de outra relação na troca com a natureza, diferente do predatório extrativismo. Outra economia é possível, mas estamos longe de conseguir emplacar o próprio debate a respeito. Tarefa difícil, mas inadiável. Basta ter presente o consenso que há no Brasil, hoje, sobre a “salvação” que representa para o país o extrativismo das reservas de petróleo do pré-sal, por exemplo.
Rio, 27/01/2019