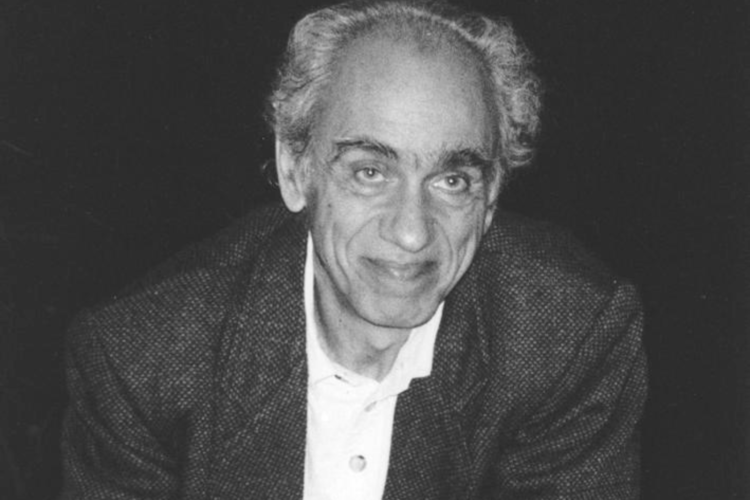Cândido Grzybowski
Sociólogo, diretor do Ibase
Tarso Genro, demonstrando fina sintonia com a conjuntura política do Brasil, aponta corajosamente o caminho da concertação como saída ao grande impasse em que estamos mergulhados e ao risco de rupturas violentas e irreversíveis que possam ocorrer. Concordo inteiramente com seu artigo publicado n’O Globo em 10/03/16, em que ele diz qual é a questão central e ameaça maior neste momento. Caminhamos para uma situação em que a disputa política na sociedade, cada vez mais criminalizada, judicializada, espetacularizada irresponsavelmente pela grande mídia, e radicalizada, extrapolando princípios e valores democráticos fundamentais, pode descambar em violência aberta, destrutiva. Toda a sociedade brasileira tem muito a perder com o risco de destruição da democracia, pela qual penamos muito.
Tenho escrito e reafirmo aqui que estamos numa crise de hegemonia, onde as forças políticas dominantes perderam capacidade de formular projetos e apontar rumos para a sociedade. O conflito entre elas deixou de ser em torno de visões, ideias e valores, de representação de imaginários mobilizadores na sociedade sobre o que somos hoje e desejamos ser amanhã. Os partidos deixaram de ser partidos – apesar de manter o nome – e se tornaram federações de interesses privados e agremiações para manter posições e tirar vantagens materiais do poder estatal. Estamos diante de oportunismos de lideranças pequenas, cujo horizonte é a sua própria sobrevivência, como se a representação política fosse somente um bom emprego cercado de benesses. As poucas exceções a isto – e elas existem – com pessoas de estatura moral e política para ser de fato representantes, mesmo se discordamos delas, não conseguem se contrapor a isto tudo. A multiplicação de partidos é o maior sintoma do câncer da degradação e privatização do espaço da política como um bem comum democrático fundamental. O deslocamento da política do Congresso e Executivo para o Judiciário é a metástase de tal câncer. O financiamento eleitoral mercantilizado, onde os grandes interesses corporativos davam a regra, acabou gestando tal situação.
Apontar uma crise de hegemonia política não é desconhecer a existência de poderes reais fortes e atuantes. Aliás, os poderes estão aí, por trás de tudo. Afinal, o Brasil tem dono! Não é nosso, do fantástico povo deste país. Nunca foi, por sinal. Entre nós também estão os tais 1% que dominam, os que dominam os 99% restantes, seja na agricultura com o agronegócio, na mineração, na indústria ou no comércio. Mas é nas finanças e no seu complexo de cassinos interligados, do plano nacional ao internacional – bancos privados, bolsas de valores, agências de avaliação de risco, instituições financeiras multilaterais – onde a concentração é absoluta, pode chegar a algo próximo a 0,1%, que o poder é quase total. Vivemos numa situação, sentida mas dissimulada, onde o absolutismo do capital econômico e financeiro, com seu punhado de corporações globalizadas, está atrás de tudo e, como um polvo, domina o próprio planeta.
Como democracia é de gente – onde cada cidadã ou cidadão deve valer igualmente na balança do poder – ela, como projeto mobilizador, tende a equalizar pela política a dissimetria das relações na estrutura social gerada pela economia. Claro, as situações históricas reais expressam as pequenas possibilidades e os grandes limites para a democracia. Ou seja, por definição, a democracia tem a ver com o poder. Trata-se de um processo em permanente disputa, baseado em iguais direitos e responsabilidades cidadã no sentido de criar cada vez mais e mais igualdade em termos políticos para, em consequência, mudar as leis férreas da economia e da sociedade que levam à desigualdade e exclusão, à discriminação e dominação.
Isto posto, voltemos à nossa situação no Brasil, neste quentíssimo ano de 2016. Duramente conquistamos a democracia uns 30 anos atrás, depois de uma tenebrosa ditadura de 24 anos. A democracia tem sido até aqui, mesmo tímida, uma porta de libertação de poderosas forças construtivas de outra sociedade. No processo de democratização tivemos muitas conquistas, talvez ainda pequenas de uma perspectiva de cidadania planetária, que adoto como resultado do ativismo por “outro mundo” possível. Mas seria faltar à verdade histórica não reconhecer que a democracia permitiu ao Brasil mudar para melhor. Muito, muitíssimo, há por fazer. Mas não dá para jogar fora conquistas fundamentais num país cuja matriz de nascimento para a modernidade foi a “casa grande e senzala”. Pois bem, o que fizemos em 30 anos de democratização é maior do que o feito em 500 anos de conquista, destruição de povos indígenas e colonização, de escravidão e subserviência aos imperialismos de plantão. Não mudamos de ponta cabeça, mas esticamos de algum modo a corda para buscar e tentar outros caminhos. Não conseguimos, de fato, só abrimos a picada que poderá virar estrada iluminada lá adiante. O pouco feito, porém, tem algo de pedra fundamental de outra coisa. Na minha geração, tendo passado o que passei, dá para festejar este pouco como outro caminho iniciado. É o legado que deixamos para os netos.
O problema é que a conjuntura em que estamos agora parece por tudo a perder. A nossa democracia perdeu força e virou de baixa intensidade. O que passou já foi, precisamos olhar para frente e reinventar a democracia. Cuidado com ela que é ainda uma planta frágil! Talvez eu sinta uma espécie de trauma de guerra, como toda hora minha companheira nos últimos 48 anos me lembra, se referindo à minha origem de descendente de migrantes poloneses, longamente dominados e sofrendo com invasões e guerras de poderosos vizinhos beligerantes. Tenho trauma, sim, mas é da ditadura militar brasileira, que quase matou meus sonhos de liberdade e igualdade. Mais: me orgulho da conquista da democracia no Brasil, onde a minha geração teve um papel protagônico. Perdê-la é o trauma pessoal, daquelas que provocam colapso. Vejo que, politicamente, perder a democracia será um retrocesso em direção à “casa grande e senzala”.
Não é nenhuma paranoia falar que a questão maior do momento brasileiro seja a destruição da democracia. Aí, voltando ao artigo do Tarso Genro, o problema deixa de ser de quem ganha ou pode perder no imediato da disputa política. O central é que todas e todos perdemos se cairmos na lógica de “nós e eles”, de “amigos x inimigos”, como os últimos acontecimentos começam a dar sinais de que esta é uma possibilidade real. A alternativa a tal polarização – e ao potencial de grande destruição que carrega – é criar pontes democráticas de diálogo para, exatamente, colocar no centro o bem maior: a democracia como método de solução do impasse atual. Não é uma solução para a crise de hegemonia, mas é a condição indispensável para que ela possa ser construída e o Brasil voltar a ter um projeto que nos una em nossa diversidade e permita que a disputa democrática – ou luta de classes na e pela política, se preferirem – volte a ser novamente força de construção. Isto significa um pacto concertado pela democracia, pela recriação de condições políticas para que a disputa entre nós seja construtiva, baseada em princípios e valores democráticos como fundantes.
Não vou entrar no mérito das medidas ou agenda concreta de concertação proposta por Tarso. Quero finalizar destacando o estratégico e o difícil que é criar condições para que aconteça. Como bem lembra Tarso, não se trata de conciliação de interesses pelo alto, num toma lá e dá cá, que paralisa e congela o status quo em favor dos “donos” do poder e, a seu modo, destrói a democracia. Trata-se de reafirmar princípios e valores comuns e aí por as cartas na mesa, todo mundo cedendo para todo mundo ganhar em termos de futuro. Concertar é, por definição, reafirmar o método democrático como o melhor caminho para solucionar os impasses do presente.
O problema é que a concertação exige, de um lado, o recolocar a democracia no centro como imaginário, como projeto, como base para o país. De outro, exige a emergência de líderes e forças dispostas a isto. Estamos diante de um problema de campanha cívica, tipo “diretas já” ou anistia, e da criação de lideranças novas. Talvez este segundo aspecto seja o mais difícil, pois se trata de reconhecer a legalidade dos representantes eleitos e ao mesmo tempo de não ver neles a legitimidade para conduzir o processo neste momento. Ficar dependentes deles é conciliação. Mas para haver concertação, os eleitos, mesmo sem legitimidade, precisam aderir. Tem sempre uma fração de forças na sociedade, nos extremos, que jamais vai aderir a um pacto assim. O pacto é, exatamente, uma forma de isolar os falcões da política, sejam quem sejam. Mas será que nós, cidadania em frangalhos, deste país cheio de vida em meio à crise, estamos prontos a encarar tal desafio e criar na rua – o espaço instituinte e constituinte onde podemos exercer plenamente a cidadania, por excelência – as condições para uma grande concertação nacional? Por onde começar?