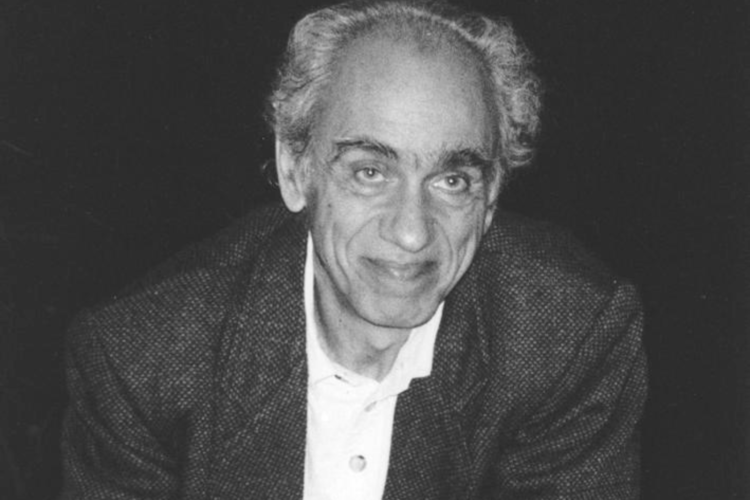Cândido Grzybowski
Sociólogo, do Ibase
A gente tem certa dificuldade em associar as grandes análises econômicas, sociais e políticas, tanto sobre as relações, estruturas e processos de exploração e dominação, como sobre a hegemonia que a globalização neoliberal capitalista, com o modo como vivemos. Parece até que nos consideramos – falo de nós, analistas críticos – imunes diante dos valores, sentimentos, comportamentos e estilos de vida de nosso cotidiano totalmente contaminados pelo capitalismo globalizado. Penso que é mais fácil convencer pessoas sobre a destruição associada ao modelo extrativista de desenvolvimento – mineração, energia, agronegócio – do que demonstrar como nosso modo de viver está hoje profundamente dependente desse mesmo extrativismo.
No meu tempo de professor, quase 30 anos atrás, para pensar na trama de relações que é o nosso viver, muitas vezes propus às alunas e alunos pensar a sociedade a partir do prato de comida de um domingo com a família. O meu esforço, então, era explicar o trabalho social invisível contido na comida diante da gente: quem produziu aquilo? Em que condições? Quais as relações que regiam aquela produção? Onde e em que contexto territorial, social e político? A que preço se produziu e se comercializou? Não dá, aqui nesta crônica, para descrever a verdadeira experiência de “descoberta” do social na comida pelos alunos. A partir daí se tornava fácil discutir trabalho assalariado e trabalho escravo, propriedade, latifúndio e estrutura agrária, empresas de processamento, transformação e comercialização, a tal “mão invisível” do mercado que transformava o grande pomar brasileiro em exportador de etanol em troca de frutas do Chile – uma falta de lógica, não? Sempre me pareceu uma forma fácil de explicar a lógica capitalista e o modo de organizar a nossa sociedade em classes e… definir de algum modo o que comemos e o que não comemos. Na época, eu era um investigador apaixonado dos “novos movimentos sociais” e de seu potencial democratizador, movimentos que, no campo e nas cidades, cresciam como cogumelos.
Hoje, reconheço que meu esquema criativo tem muitos furos diante de uma perspectiva transformadora mais radical. O cuidado como atividade essencial em nossas vidas ficava de fora do esquema. No entanto, era o cuidado – trabalho social básico de mulheres, companheiras e esposas no nosso patriarcalismo – que preparava aquilo que ativava o apetite, aquele pratos de gostos, cheiros e cores, sem o que todo o trabalho antes da cozinha poderia nada significar para nós. Aí o patriarcalismo se esconde em meio de sabores e amores! Também a cultura, o alimento como cultura alimentar, cheio de significados, cosmovisões, religiões e história, definindo civilizações, me escapava. Descobri depois que a cultura alimentar pode ser uma base fundamental de resistência e transformação.
Na semana que passou, consegui ler uma inspiradora entrevista de Sul21 com Sebastião Pinheiro, engenheiro agrônomo e florestal, que dedica a sua vida a estudar a relação entre agricultura, saúde e meio ambiente . Nesta entrevista, ele afirma algo essencial para a gente pensar: “Estão acontecendo coisas muito estranhas e estamos meio perdidos. A própria agricultura mudou de nome e que não significa cultivo somente. Ela envolve uma cultura que tem uma espiritualidade, uma religiosidade, valores e natureza associados a ela. A agricultura passou a ser agronegócio. Isso foi um baque tremendo. Saiu a cultura e entrou o negócio”. E logo adiante acrescenta: “Quando a agricultura virou agronegócio, o agronegócio deixa de ser um problema da vítima e passa a ser a ideologia do dominador”. Estamos diante de uma mudança fundamental no prato de comida e em tudo o que ele envolve. Não vou entrar em detalhes, mas lembro aqui o que se tornou uma espécie de mote do Fórum Social Mundial lá no seu início, começo do novo século, com a ajuda do ativista francês, o Bové: “Não à macdonilização da comida!”. Na sua esteira, descobri o movimento “Slow Food”, surgido na Itália contra o “fast food”, símbolo maior da globalização em nossos pratos e nos modos de comer, que continuam essenciais para a gente viver, apesar de sua colonização pelo capital ávido de lucros.
Creio que muita gente se incomoda diante da massiva publicidade do agronegócio, que deixou de ser cultura e virou só negócio. Mas, pensemos um pouco mais sobre o que significa o motor que invade aqueles nossos momentos relaxados diante da televisão. “O agro é tech! O agro é pop!” Será mesmo? O problema é a armadilha ideológica e colonizadora aí embutida. A propaganda do agronegócio esconde tudo o que ele significa: alta concentração da propriedade e dos lucros na agricultura, a grilagem de terras, a destruição de florestas, trabalho escravo e conflito social com povos tradicionais e Sem Terra, o trabalho escravo, os transgênicos e o uso de agrotóxicos e por aí vai uma fila longa de agressões socioambientais no produzir, o que pode virar nosso alimento. A propaganda esconde o elementar extrativismo que tal atividade pratica, produzindo as tais “commodities” agrícolas e se justificando por estar “alimentando o mundo”. Viramos um “fazendão” para o mundo, interiorizando e aprofundando um tipo novo de submissão e colonialismo no mundo globalizado do capitalismo neoliberal. O pior de tudo é que tal propaganda esconde e legitima o papel da bancada ruralista na estrutura do poder político no Brasil, um câncer corporativo que transforma a política – um bem público fundamental – em mera mercadoria e ameaça de morte a democracia, que já está na UTI. No meu modo de ver, estamos diante de uma grande derrota em termos de imaginários, visões, valores e destinos, derrota hegemônica, enfim. Mesmo a leva de governos progressistas na América do Sul se rendeu ao agronegócio extrativista como forma de nossa inserção no mundo. O desafio de “desconstrução” de tal hegemonia e propor alternativas vai exigir muita imaginação, ousadia e determinação, com suor e lágrimas.
Aprofundando as minhas reflexões, cheguei a uma entrevista que Raúl Zibechi que põem no centro de nossos desafios o extrativismo como modelo econômico, político, social e cultural a ser enfrentado. É nas lutas de resistência ao extrativismo que se encontra o maior potencial de transformação do que temos hoje diante de nós, pensando o futuro com democracia, justiça e sustentabilidade socioambiental. É nelas que precisamos buscar inspiração e radicalidade. Aí voltamos ao nosso prato de comida e à cultura alimentar. Há um elo fundamental entre a luta contra o negócio extrativista, agrícola, mineral, energético, de populações em territórios concretos, e nós todas e todos que vivemos e dependemos do modelo extrativista. O nosso futuro e das novas gerações nos impõem agir deste aqui e agora. Com nosso gesto de “politizar” a comida podemos conquistar corações e mentes para a causa de democracia com sustentabilidade num mundo novo.
Rio, 15/01/18